O silêncio climático das periferias: por que estamos deixando de ouvir quem mais sofre?
- Energy Channel United States

- 29 de ago.
- 3 min de leitura
Por Claudia Andrade
@cauvic2
Nos debates sobre sustentabilidade, impacto e responsabilidade social, percebo que há um incômodo latente, mas ainda pouco nomeado: o silêncio. Não o silêncio da ausência de problemas, mas o silêncio produzido pela exclusão das vozes que mais sofrem os efeitos da crise climática — as vozes das periferias, das favelas e dos territórios invisibilizados. Esse silêncio não é neutro. Ele é político, construído por estruturas que historicamente decidem quem pode falar e quem deve apenas suportar.

Nas conferências climáticas, nos conselhos empresariais de ESG e mesmo em muitas políticas públicas, raramente encontramos representantes dessas populações. As soluções são quase sempre pensadas para elas, e quase nunca com elas. O resultado é que seguimos repetindo velhos padrões: projetos que soam bonitos nos relatórios, mas que pouco reverberam na realidade das comunidades. É um debate global que se apresenta como inclusivo, mas que, na prática, continua profundamente elitizado.
Os dados são contundentes. No Rio de Janeiro, estudos recentes mostraram que a sensação térmica em favelas como a Maré já ultrapassou os 60 °C, enquanto bairros vizinhos registraram até 8 graus a menos. A explicação está na falta de áreas verdes, na forma como os espaços são construídos e na ausência de políticas de adaptação climática direcionadas a esses territórios. Isso não é apenas um dado climático: é a materialização do racismo ambiental.
Ao mesmo tempo, é nessas periferias que emergem soluções criativas e resilientes. Telhados verdes construídos coletivamente, hortas urbanas que alimentam e refrescam o espaço, redes de solidariedade que garantem água onde o Estado não chega. São respostas práticas e inovadoras que, muitas vezes, não alcançam reconhecimento ou escala justamente porque partem da margem. Como se inovação só pudesse nascer dos centros acadêmicos ou corporativos — e não da inteligência cotidiana de quem sobrevive todos os dias ao colapso.
Essa exclusão tem consequências diretas. Quando empresas e governos ignoram essas vozes, criam riscos reais de legitimidade. Projetos de impacto que não escutam as comunidades tornam-se ações de vitrine, suscetíveis a críticas de greenwashing ou de responsabilidade social superficial. É preciso coragem para admitir: responsabilidade não é doar, é dividir poder. Não é apenas investir recursos, mas permitir que comunidades influenciem e transformem as decisões.
O desafio, portanto, não é apenas ambiental. É civilizatório. E talvez esteja aí a reflexão mais urgente: por que seguimos medindo impacto em dinheiro investido ou pessoas beneficiadas, e não em quantas vozes antes invisíveis foram ouvidas e passaram a decidir sobre o seu futuro? Essa simples mudança de métrica — da quantidade para a qualidade da participação — pode redefinir todo o conceito de impacto social.
Autores como Joan Martínez Alier, ao falar do “ambientalismo dos pobres”, já apontavam que os movimentos mais potentes de transformação climática nascem justamente das comunidades vulneráveis. São esses movimentos que lembram ao mundo que sustentabilidade não é luxo, mas sobrevivência. E, como provoca Djamila Ribeiro, inclusão não se trata de dar voz, mas de reconhecer que a voz já existe — o que falta é espaço de escuta.
Se quisermos uma sustentabilidade realmente transformadora, precisamos romper esse silêncio. Precisamos estar dispostos a ouvir os territórios que carregam no corpo o peso do calor extremo, das enchentes, da poluição. Precisamos reconhecer que o futuro não se constrói em painéis a portas fechadas, mas em diálogo aberto com quem sempre foi visto como objeto da política, e não como sujeito dela. O silêncio climático das periferias só será quebrado quando aceitarmos que não há justiça climática sem justiça social.
O silêncio climático das periferias: por que estamos deixando de ouvir quem mais sofre?




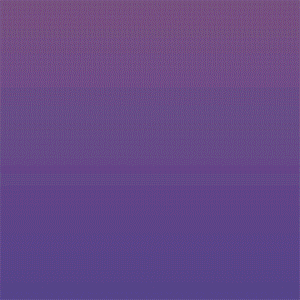




















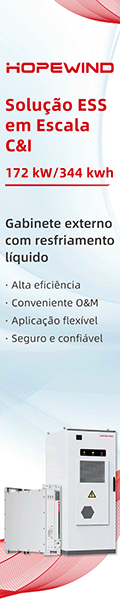




Comentários